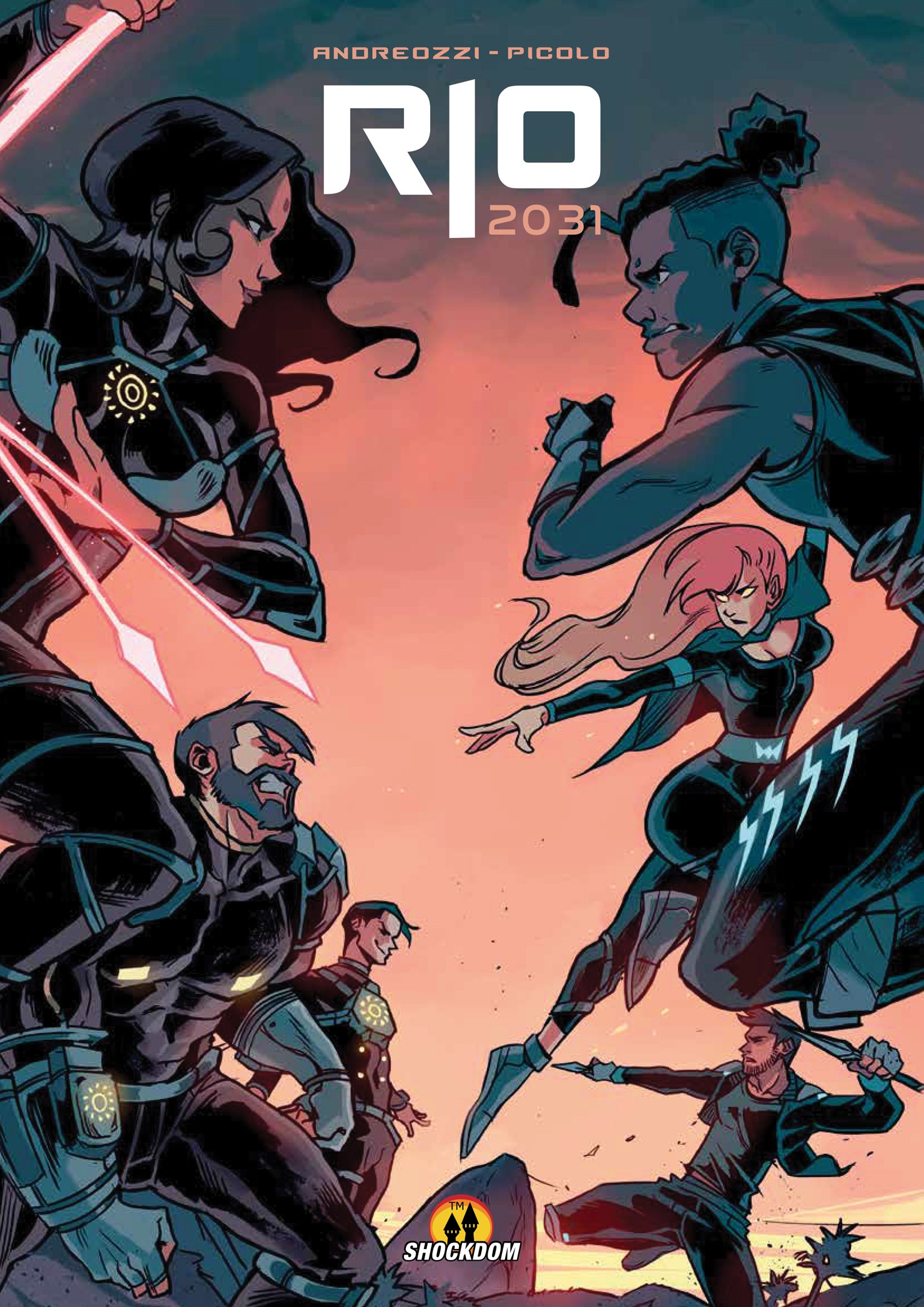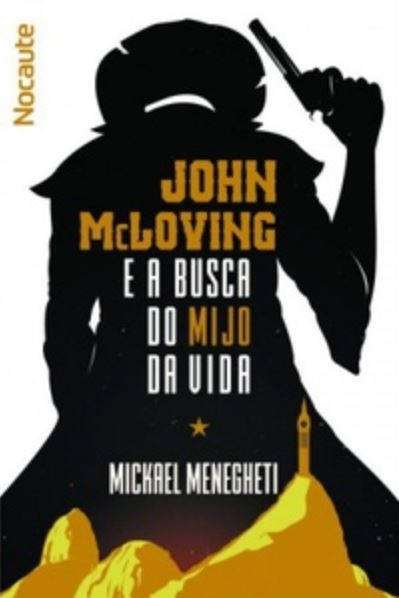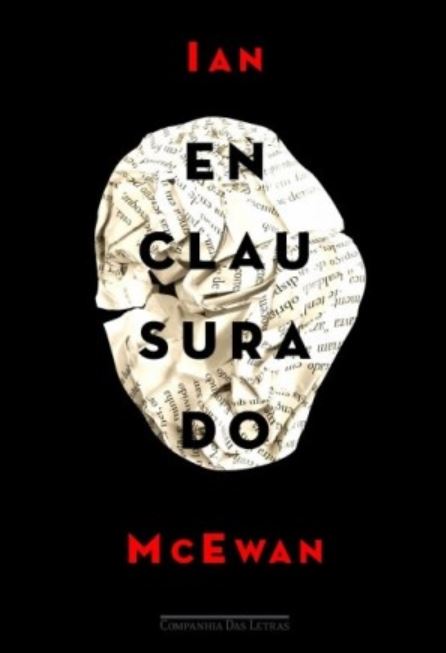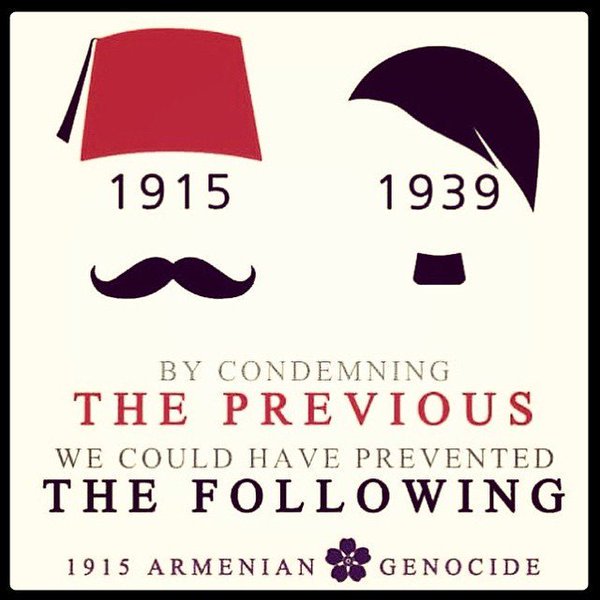Dizia em algum fórum de teóricos da conspiração que 2017 seria o terceiro centenário da franco-maçonaria, e que em tal aniversário os donos do mundo queriam colorir os céus com fogos nucleares para celebrar o seu domínio universal.
Apesar de o Doomsday Watch ter avançado alguns minutos para a meia-noite com os dois doidos de pedras com poder a trocarem insultos e ameaças, a saber Trump e Kim Jong-Um, tudo correu bem. Com a exceção de uma bomba-mãe lançada no Afeganistão pelos EUA, nenhuma ogiva nuclear voou pelos céus.
De foguetes, espero somente os da SpaceX e agências espaciais afins a caminharem rumo ao progresso humano, e não à destruição.
A gafe de início de ano foi na cerimônia do Oscar, em que erraram a nomeação do prêmio principal da noite, o de melhor filme, fazendo todos os produtores e atores de La La Land subirem ao palco receber a estatueta até perceberem que não eram os reais vencedores. Moonlight venceu, rendendo até música de Jay-Z sobre a sua nova exteriorização de músicas sobre o racismo contemporâneo.

Jordan Horowit exibe o real vencedor da noite: Moonlight
Embora até esse minuto eu esteja no Hype do episódio 8 de Star Wars, o filme do ano foi com certeza Dunkirk de Christopher Nolan, sobre a batalha perdida na praia de Dunquerque, em que a sobrevivência se transforma na maior vitória em cenas de desespero acompanhadas pela rima de tensão de uma narrativa não linear entre diferentes pontos de vista dos acontecimentos e da trilha sonora do compositor Hans Zimmer em que abusou da Escada de Shepard.

Dunkirk: Sobrevivência é a maior vitória
Outra pérola foi Blade Runner 2049, um filme com excelente produção de arte, acertou em não realizarem um remake, a opção da continuação deu folego ao clássico, cuja missão não seria de superar o original de 1982. Embora o filme tenha sido um dos melhores do ano, não é para qualquer espectador, a duração de pouco mais de duas horas e quarenta minutos para uma narrativa sem muita ação num futuro cyberpunk pode ter feito alguns desavisados saírem reclamando do filme. Azar o deles…
Na telona brasileira o filme do ano foi Bingo: O Rei das Manhãs, do direto Daniel Rezende, que foi indicado ao Oscar de melhor montagem por Cidade de Deus em 2004.
O filme mostra a vida de um ator de pornochanchadas tentando subir na carreira, até que se arrisca num teste de audição para o papel de um apresentador de um programa infantil vestido de palhaço que fazia sucesso nas tevês americanas, mas que por aqui o padrão do roteiro não estava vingando, até que o ator decide improvisar e tomar aulas com um palhaço de circo de verdade, interpretado pelo falecido Domingos Montagner. Vladimir Brichta tem uma ótima atuação nessa história em que um palhaço doido num programa infantil nos anos oitenta acaba em drama.

Bingo: típico programa infantil dos anos 80
Logan foi uma grande surpresa, estava com o pé atrás pelos trailers que havia visto, o resultado foi magnifico na despedida do papel de Hugh Jackman como o mutante machão que levou muito chumbo na vida. Além do pesar dos personagens, as cenas de ação ficaram sublimes por sua simplicidade. O que ocorreu no cassino, sem muito CGI me deixou extasiado.
Planeta dos Macacos: A Guerra (War for the Planet of the Apes) foi outro ponto alto do ano. Com coragem de fecharem a trilogia sem deixa para continuação, o filme foi perfeito em mesclar elementos de outros gêneros, além do clima do clássico Apocalipse Now havia cenas em que senti requintes de um faroeste.
Menções honrosas: Corra! (Get Out!), Trainspotting 2, Estrelas Além do Tempo (Hidden Figures), Fragmentado (Split) na brilhante volta de M. Night Shyamalan, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas (Valerian and the City of Thousand Planets) e Sully – O Heroi do Rio Hudson (Sully).
No mundo das séries, Game of Thrones atingiu o seu apogeu em audiência e popularidade, mas senti que essa temporada foi menos conclusiva que a anterior, os Caminhantes Brancos pareciam o povo hebreu da época do êxodo vagando no deserto, demoram muito para chegar até Westeros e a desculpa de que precisavam do dragão não cola, visto que teriam todo o processo adiantado se tivessem beirado a muralha.
A estreia mais aguardada teria sido Deuses Americanos (American Gods), baseada no livro de Neil Gaiman, sobre uma guerra entre os antigos e novos deuses. Apesar dos episódios terem se estendido de forma redonda com a primeira parte do livro e o final ter ficado modesto, há dúvidas se a série continuará, pois o diretor e produtor Brian Fuller já sinalizou problemas de divergência criativa com os estúdios. Seria outra furada do diretor que já nos deixou órfãos de Hannibal?
Pude cumprir com a minha meta de matar as séries Californication e Mad Men.
Californication possui episódios de curta duração, menos de 30 minutos, enredo simples, muitos dos quais com finais previsíveis, mas me cativou quando mais moleque (entenda-se algo entre 21 anos), talvez pelo fato de ser na Califórnia. Ou então, se for mais verdadeiro comigo mesmo, pelo fato do personagem principal Hank Moody (David Duchovny) ser um escritor boêmio que pegava muita mulher top e eu deve ter pensado que ser escritor seria isso…
Já Mad Men, que série engenhosa! Acho que ficaria no meu Top 5 de séries. Em muitos momentos parava e pensava que não passava de novela, mas como me desgrudar desses episódios? Muitos personagens bem trabalhados nas tramas, o roteiro de acordo com a época, muitos detalhes históricos entremeados (década de 1960) com tudo que podia se afetar, fosse na área da publicidade e propaganda, fosse no cotidiano.
Mas a série que me cativou de maneira incompreensível foi a temporada de Twin Peaks desse ano, continuação da primeira temporada de 90-91, isso mesmo, essa série veio ser continuada após todo esse tempo, com apenas um filme prequel lançado em 92 intitulado Twin Peaks – Fire Walk with Me.
Em vários episódios (se não em todos) me perguntava: “Por que estou assistindo isso?”, pois além de não ter assistido à temporada original, mea culpa eu sei, a história tem um pontos de liberdade criativa excessiva, pois o diretor nada mais é que David Lynch, que já o conhecia por filmes como Duna (Dune) e Cidade dos Sonhos (Mulholland Drive).
Twin Peaks pode ser comparado a um Arquivo X, porém, com requintes de filme arte feitos com baixo orçamento, há efeitos especiais mais simples dos encontrados em episódios antigos de Power Rangers, no entanto, as cenas, diálogos, personagens excêntricos e fotografias dedicadas te prende, e por mais que você não saiba a razão de assistir aquilo verá até o último episódio e ficará torcendo para que a próxima temporada não demore outros 25 anos.

Twin Peaks O Retorno: se não entender 90% dessa série e ainda assim adorar, bem-vindo a bordo
De HQ’s achei um ano fraco, não foi muita coisa que me atraiu atenção, apesar de diversos títulos terem sido lançados. A exceção foi a nacional Rio 2031, de Giuseppe Andreozzi e Gabriel Picolo, em que num futuro não muito distante o mundo se vê em uma nova guerra fria, divida entre as potências TheNation e NewState, criadas por conglomerados de multinacionais. Em cada uma dessas novas superpotências existem os TIMED’s, meta humanos cujo poder tem limite que culmina junto com sua vida, por isso o nome de Timed.
No primeiro volume, vemos que o Rio de Janeiro ainda não se uniu a uma dessas potências, se transformando num palco de disputa entre milícias, mutantes e políticos.
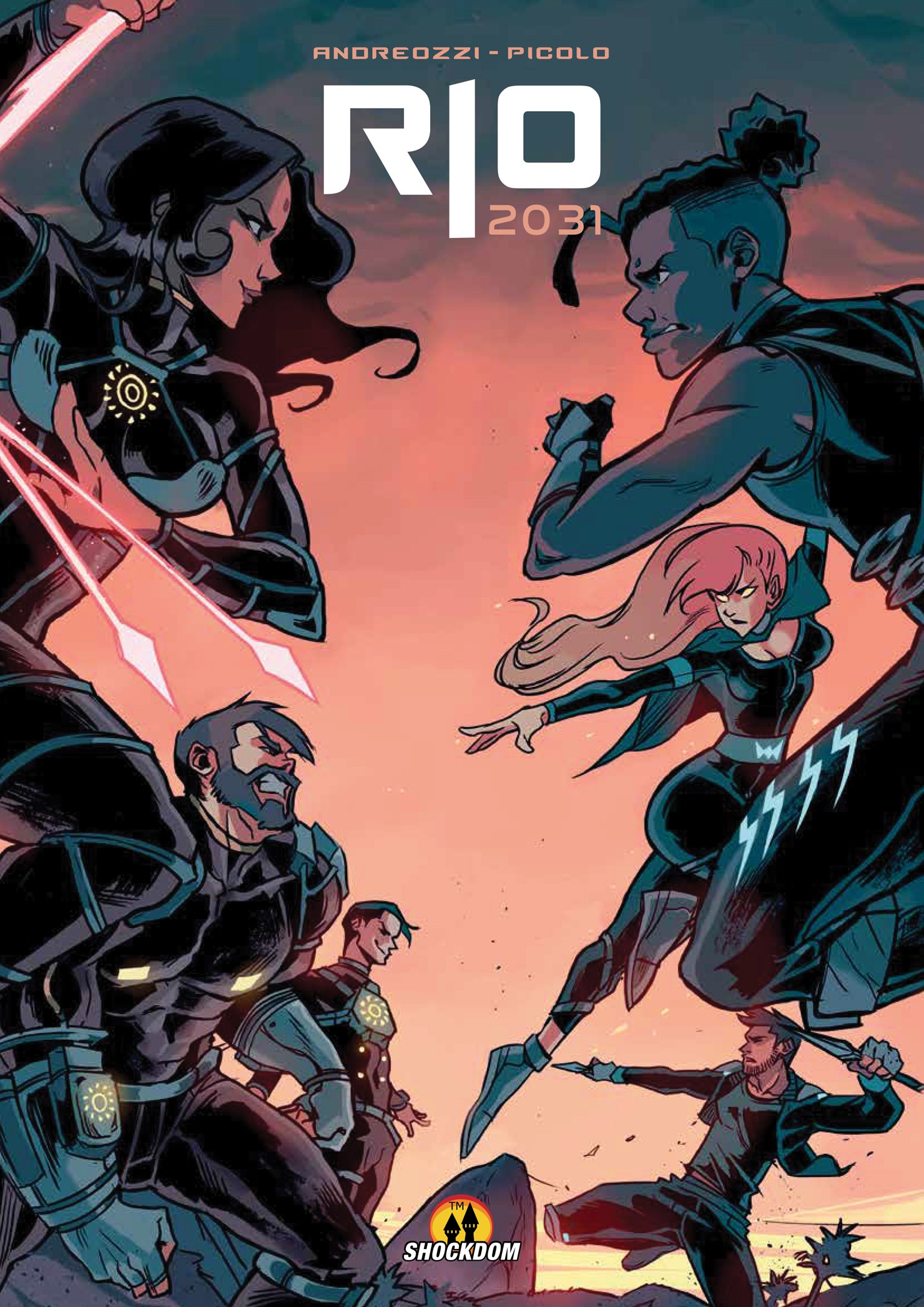
Rio 2031
No ano em que dominou Despacito e Shape of You o que me deixou naquele replay infinito foram as faixas do novo álbum de Gary Numan: Savage (Songs from a Broken World) e além delas, a intimista Bed of Thorns, faixa inspirada e incorporada à trilha sonora do filme Ghost in the Shell.
Além disso, Macaco Bong lançou um albúm estonteante, em que com o seu estilo fizeram uma releitura do clássico Nevermind, transformando-se no Deixa Quieto. O trabalho é de pirar.
Outro lançamento primordial para os meus tímpanos foi o álbum Death Song, da banda The Black Angels. Sim, o rock ainda vive, e melhor, respira sem aparelhos quando toca ao estilo psicodélico como na lúdica faixa Life Song. Viagem Pura.

Em um ano que foi se concluindo com muito stress uma leitura salvou minhas noites: John McLoving e a Busca do Mijo da Vida, do autor Mickael Menegheti.
Se o “Mijo” no título não passou despercebido pode ter certeza de que o livro também não foi apenas um nesse ano, dos nacionais foi o meu predileto, por ser de faroeste e ser recheado de comicidade em aventuras numa história alternativa em que o Brasil foi colonizado pelos ingleses, e ao invés de um Cristo Redentor há um enorme Big Ben no Corcovado. Mcloving é rápido no gatilho e danado a encontrar o que busca, mesmo que seja o mijo da vida, lenda indígena que o carrega numa jornada tresloucada entre vários tiroteios e bolas de feno rolando.
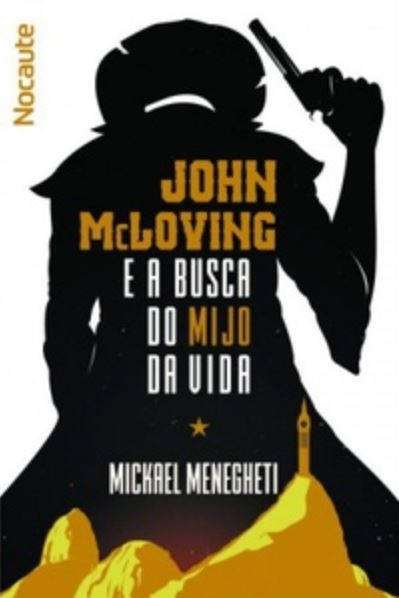
John McLoving: Faroeste num Brasil diferente
Dos internacionais foi Enclausurado, do inglês Ian McEwan que me deixou fascinado. Dando pinceladas de nostalgia literária ao me lembrar de Memórias Póstumas de Brás Cubas, pois o narrador da história nada mais é do que um feto, enclausurado no ventre da mãe, em diversas reflexões sobre o mundo que o aguarda, enquanto é testemunha do adultério da mãe com o tio e dos planos do dois para assassinarem o pai para ficarem com uma casa antiga como herança.
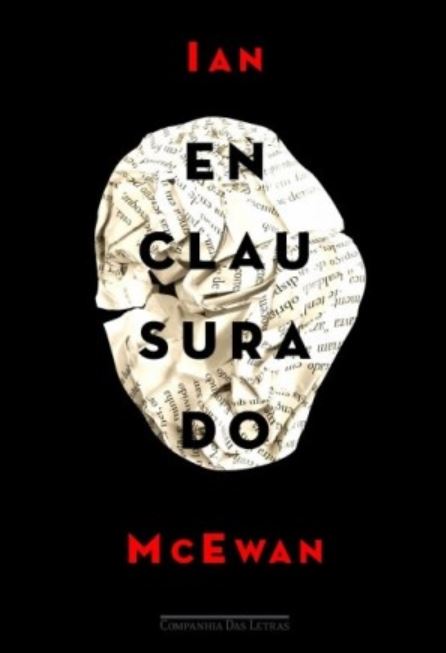
Enclausurado: um feto reflexivo e ansioso
Sou do tipo que luta contra quando alguém diz que uma história “passou uma mensagem”, e não vou me contradizer aqui. Enclausurado reafirmou (e não mais do que isso) em mim a minha natureza míope: sou um otimista incorrigível.
E é com essa afirmação que encerro com a foto que mais me tocou nesse ano em que o holocausto nuclear não ocorreu como alguns teóricos da conspiração desejaram.
Nela, o morador Mohammed Mohiedin Anis de 70 anos fuma cachimbo e escuta música no quarto de sua antiga casa destruída em Aleppo, na Síria.
Apesar dos apesares, tamos aí! A vida tem muita arte e beleza para nos agraciar.

Mohammed Mohiedin Anis: apesar dos apesares, tamos aí!
Ma’a salama 2017!