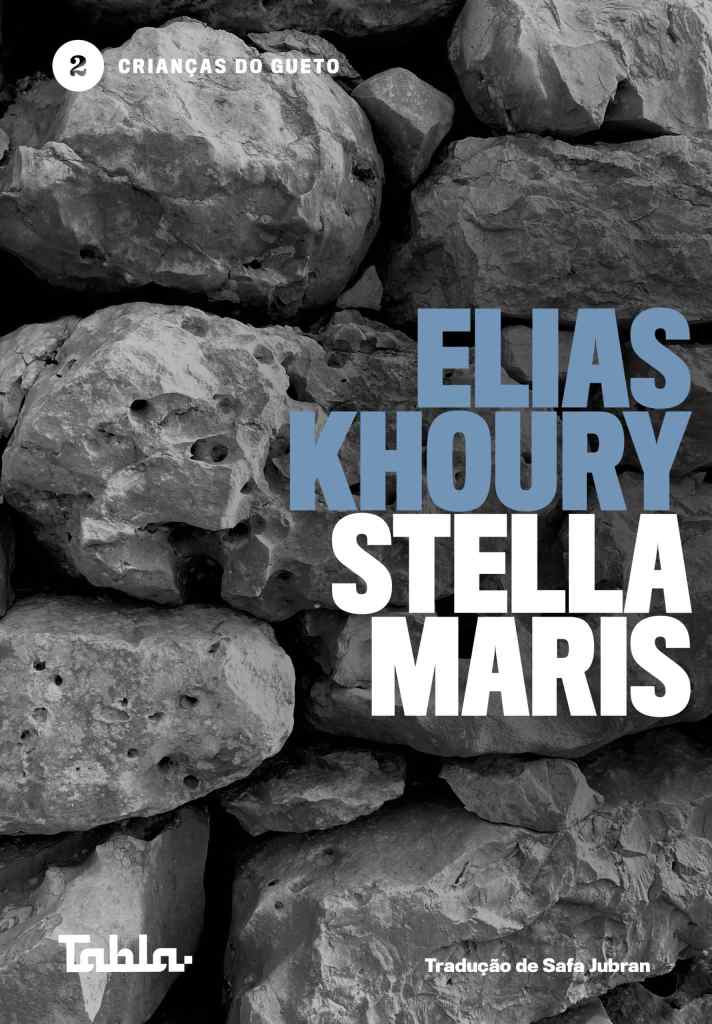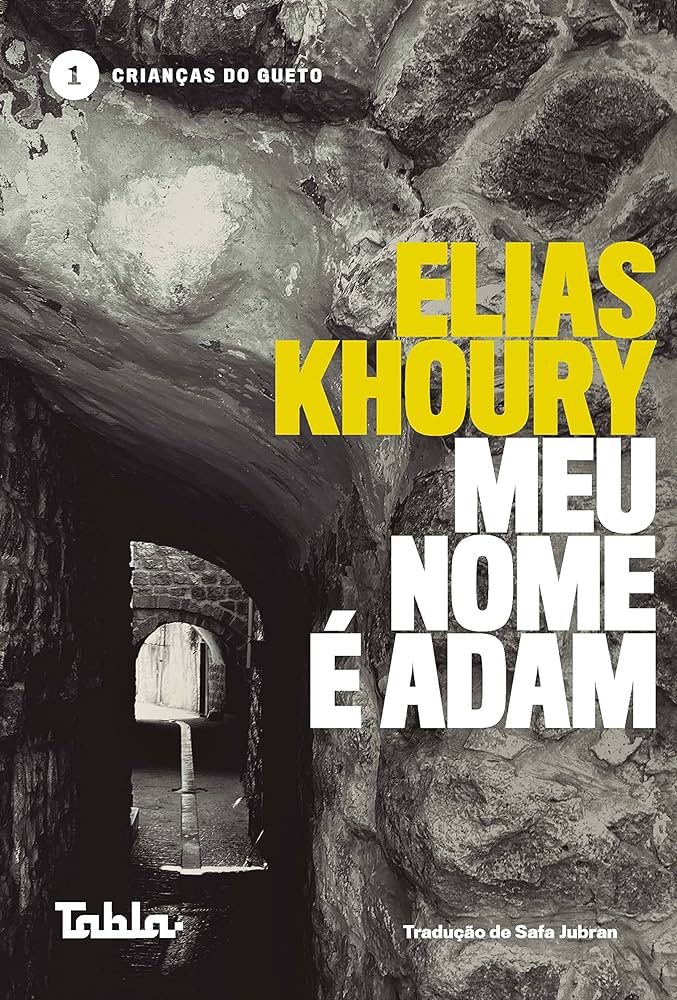O Melhor de 2025
Findo 2025.
Um ano belo e de gozo pelo cinema brasileiro tendo seu reconhecimento na cerimônia da estatueta do hominho dourado com Ainda Estou Aqui, com destaque para também para o documentário israelo-palestino Sem Chão (No Other Land) que levou o Oscar de melhor documentário.
Por um lado, o cinema nacional agora sonha em alçar voos maiores e com gana de figurar anualmente em todos os maiores prêmios. Por outro lado, o povo palestino, mesmo com um documentário denunciante com um prêmio expressivo como o da Academia, ainda tende a sofrer, inclusive um dos produtores, Hamdan Ballal, foi agredido brutalmente por colonos israelenses de forma covarde, ainda em meados de março, mesmo mês da cerimônia.
Sinais de como funciona a opressão do meu povo…
Desde que iniciei a série de retrospectivas “O Melhor de [Ano]” há mais de 10 anos, eu havia definido que a regra sempre seria expor as melhores coisas, porém, uma carga de angústia tem me consumido nos últimos anos, e não consigo omitir os fatos, então sempre hei de mencionar e denunciar, mesmo para essa minha mui pequena audiência, tudo o que me incomoda, ainda que de forma preambular.
Nenhum ano é inteiramente ruim, Nenhum ano é inteiramente bom.
LIVROS
Eles Vivem, Ray Nelson, (Trad. L.F. Lunardello; Nathalia Sorgon Scotuzzi)
Coletânea primorosa de contos de ficção-científica do autor Ray Nelson, cujo conto “Oito Horas da Manhã” serviu como base para o famoso filme Eles Vivem (They Live) do renomado diretor John Carpenter. Adorei pirar nesses contos do escritor contemporâneo e parceiro de “escola” da paranoia do outro mago da FC Philip K. Dick. Os contos “Viagem no Tempo para Pessoas Ordinárias” e “Desligue o Céu” são peças magníficas.
O Som do Rugido da Onça, Micheliny Verunschk.
Estava devendo ler a prosa da elogiadíssima Micheliny Verunschk, cujos parágrafos desses relatos do século XIX, que se misturam com ecos no mundo contemporâneo, sobre uma tragédia colonialista em que exploradores arrancam de sua terra natal duas crianças indígenas levando-as para a fria Alemanha. Triste que a trama do preconceito de um encontro com a criança menina Iñe-e com Tipai uu, a “Onça Grande” permitiu que o seu destino fosse o de ser levada pelos europeus pela desconfiança paterna.
Micheliny consegue transformar uma cena simples em um ponto de perturbação, como no caso de uma sala de espera em um banco com quadros de indígenas em suas paredes.
Meridiano Infinito, Mariana Carolo.
Li Meridiano de Sangue de Cormac McCarthy no ano passado, então, toda aquela saga de um faroeste supra-violento estava bem fresco em minha memória. Já Graça Infinita li há dez anos, porém, David Foster Wallace também segue vivo em minha memória, não somente pelo calhamaço publicado em 1996, mas por suas frases e por seu trágico fim.
Mariana Carolo é brasileira e não desiste nunca.
Como pode notar, ela não é referida como tradutora aqui, mesmo tendo traduzido os textos, ela aqui deveria ser marcada como algo a parte, superior a uma “organizadora”, porque a braba insistiu, lutou, esbravejou com estudiosos estadunidenses pedantes para conseguir publicar aqui em terra brasilis um trabalho que é o encontro desses dois gigantes, sendo no caso o David Foster Wallace criando notas e observações sobre o livro de Cormac.
Além de um trabalho editorial, além de um material interessante para fãs de ambos autores, além de um guia íntimo interessante para escritores sentirem que os grandes também têm suas dúvidas diante de trabalhos de pares, Meridiano Infinito é um dos livros que orgulho de ter adquirido por conta do processo que o trouxe à vida.
Frankito em Chamas, Matheus Borges.
Esse deveria ser de leitura não obrigatória, mas necessária, para millennials que em algum momento já tiveram aquela sensação de que o tempo de fazer algo que valha a pena na vida já se foi.
Mas Frankito em Chamas não é será um manifesto ou acalentador para nós millenials, e tenho certeza de que não existiria livro que fosse capaz disso.
Nessa obra do gaúcho Matheus, há cenas de um sossego de espírito quanto ao que se deveria esperar de uma trama que acompanha um roteirista indo para o Uruguai acompanhar as filmagens do filme baseado em seu roteiro. Cenas naipe “Criterion Collection” entre dois entendidos em que poderia ter uma exibição de um cinema diferentão como escolhido e no final o personagem deseja assistir Ishtar cruzam com outras cenas naipe em que a canção Tic Tic Tac do grupo Carrapicho acalmando o coração solitário de uma mulher num karaokê no distante Japão. A ideia de reescrever algumas cenas do filme durante a produção deixa um quê do que todos queremos: ter um senso de forçar esperança ao ver queimar aquilo que não vivemos.
Stella Maris, Elias Khoury (trad. Safa Jubran).
Infelizmente o escritor libanês Elias Khoury faleceu no ano passado. Esse sim merecia um prêmio Nobel.
A continuação de Meu Nome é Adam, da trilogia Crianças do Gueto era um dos mais esperados do ano, e chegou no começo de dezembro. Agora a trama acompanha Adam Dannun, o primeiro nascido no gueto após o massacre de Lidd, tentando sobreviver na pele identitária de um país ocupado.
Vemos o jovem abandonando o gueto, indo para a bela cidade de Haifa, e em sua tentativa de adaptação mentir em várias vezes que é judeu, transfigurando até o sobrenome, eliminando um N e trocando o U por O (Danon), sendo acolhido em lares que custam a entender seu lado da história quando é descoberto como árabe. Adam tem sua primeira experiência amorosa e sexual, consegue iniciar estudos na universidade e é levado a contragosto até a Polônia numa excursão ao gueto de Varsóvia, onde revive as lembranças não vividas, mas sabidas por herança da Nakba que todo palestino acaba por carregar em sua vida. Adam Dannun acaba por se entender como um ausente presente, e é confrontado com esses fantasmas do passado, assim como pelos israelenses que custam a acreditar que ele é sobrevivente também de um holocausto, e que também viveu em um gueto, tanto mais, quando os causadores de tal sofrimento são os próprios israelenses.
Dois argentinos que devia conhecer e acabei por ler esse ano foram, o primeiro, César Aira , com o livro O Congresso de Literatura, e a outra a Samantha Schweblin com o O Bom Mal.
Gostei de ter conhecido a prosa da Verena Cavalcante com o Como Nascem os Fantasmas.
Fui iniciado no mundo da psicanálise, mas de forma micro-dosada, com o Olhando Torto: uma introdução a Jacques Lacan através da cultura popular, do filósofo Slavoj Zizek, em que aborda muito da teoria pelo cinema de Hitchcock e seus contemporâneos.
HQ
Ouroboros de Luckas Iohanathan, em um belo gibi que costura um retrato de violências do drama familiar, com cenas de contemplações taciturnas e belos tons de azuis melancólicos.
SÉRIES
Slow Horses figurará em primeiro lugar para não ficar naquela pataquada de menção honrosa, visto que ano após ano ela persiste em uma das melhores criações de comédia para televisão dos últimos anos. Jackson Lamb, o personagem de Gary Oldman nunca perde a graça.
Andor
E não é outra a melhor do ano, senão a querida Andor. A segunda e última temporada da série que revela a verdadeira faceta dos rebeldes do universo da “Guerra nas Estrelas”, no compasso político rente ao zeitgeist, com seriedade e foco no microcosmos das vidas mais ordinárias dos que sofrem em um império opressor. Se fosse ingênuo ficaria me perguntando como é que a Disney conseguiu produzir algo tão bom.
O Eternauta
A série argentina sobre uma neve tóxica matadora sobre Buenos Aires foi outra ótima produção da gigante do streaming Netflix que tem apostado em adaptar obras latino-americanas, sejam livros ou história em quadrinhos como no caso da série com o ator mais que conhecido Ricardo Darin.
Black Rabbit
A minissérie da Netflix me pegou de surpresa, com Jude Law e Jason Bateman como irmãos em uma dinâmica que vai se desenrolando para adivinharmos quem é pior dos dois em um drama familiar envolvendo egos, restaurante, Brooklin e uma penca de decisões duvidosas.
Chefe de Guerra
Jason Mamão Momoa reprisa o papel destinado ao seu físico, e aqui não se sobressai em atuação, mas foi interessante assistir essa série que mostra mais sobre essas belas ilhas do pacífico (hoje Havaí) e seus povos originários em lutas por poder, e bacana por entender que o nome do golpe mais famoso de Goku veio de um líder histórico e real: kamehameha.
Mammals
Descobrir-se corno acontece nesse mundo, e o interessante é o andamento posterior, essa minissérie de episódios curtos foi bem engraçada e tá quase escondida no Prime.
Pluribus
Rhea Seehorn era fabulosa em Better Call Saul, e agora brilha sem filtro nessa série cujos holofotes são voltados para a personagem dela em uma trama que pisca para o paradoxo de Fermi e vai além com um mundo que desenvolveu uma consciência coletiva deixando por questões genéticas e da estatística ínfima doze outliers, sendo ela um dos imunes. A ideia já foi explorada no SciFi há décadas, fãs de Star Trek que o digam, mas o hiper-foco dessa série e na maneira como Vince Gilliam consome a narrativa traz um frescor mais acessível ao público do que o jeito hard da galerinha das naves.
Das temporadas continuadas valeram a segunda de Mo, do palestino Mohammed Amer, com roteiro audacioso sobre as discussões da causa palestina que não foi eclipsada pós o sete de outubro.
Destaca-se também a segunda de O Ensaio (The Rehearsal) com Nathan Fielder voando mais alto aqui, tocando em uma pesquisa do que poderiam ser grandes causas de acidentes aéreos.
A terceira de Fundação parecia mais promissora que sua concepção, com a aparição de um dos personagens antagônicos mais famosos da literatura, a figura do Mulo foi um dos pontos altos de quando li a trilogia na adolescência, porém, considerei essa última temporada melhor que a segunda.
FILMES
Um Homem Diferente
Sebastian Stan conseguiu se sobressair na carreira de estrela da Marvel optando por dar vida ao Potus laranjão no filme O Aprendiz (The Apprentice) e no engraçado Um Homem Diferente (A Different Man), em que está em paralelo com o duplo de Dostoiévski quase às avessas.
Casa de Dinamite
Fazia tempo que um filme sobre geopolítica não me ativava a ansiedade como esse. Excetuando a alienação do cenário contemporâneo de potências elencáveis para a ameaça nuclear, já que aqui a trama cheira a bolor quando foca nos russos e ignora a importância da China ou Coreia do Norte, tu fica preso na tensão dividido em três atos.
Uma Batalha Após a Outra
Todo mundo pira com a cena de perseguição dos carros, com razão, Paul Thomas Anderson é um gênio. Mas há outras dezenas de cenas memoráveis, tensas e mui engraçadas no longa, como o Leo Di Caprio despencando de um prédio ou ele sofrendo em se comunicar em espanhol com mexicanos.
O Agente Secreto
Wagner Moura em entrevista recente agradeceu por ter feito um filme no nosso idioma brasileiro, o astro têm brilhado e labutado muito em produções estrangeiras. Além dele ser ótimo temos a revelação de Dona Sebastiana, personagem da atriz Tânia Maria, que dá um sabor especial nessa estória de Kléber Mendonça Filho.
“Quem tem medo da perna cabeluda?”
Pecadores
Um “vampiro rei” bate a porta numa festa de negros em Pecadores (Sinners), ótimo filme do diretor Ryan Coogler que tem mais acertado do que errado (não curti muito o segundo Pantera Negra).
A Única Saída
O sul-coreano A Única Saída (No Other Choice) de Park Chan-wook, diretor muito conhecido por Old Boy bateu em mim pelo fato de ter sido demitido nesse ano, um fato que abala qualquer um quando vem sem aviso, mesmo em uma situação em que minha vida financeira e profissional estivesse em sólidos alicerces, e apesar do filme ir por um caminho de violência e desespero, a ânsia estava bem pareada com todos os temores que os proletários desse século do capitalismo tardio há de sentir, tanto mais com essa ridícula bolha de IA vindo na sola das “automatizações” e precarizações da força humana.
Gostei da sessão da tarde que foi o novo Superman.
Gostei do sensível Sonhos de Trem.
E gostei também do clássico e desgracento Vá e Veja (Come and See) de 1985 que “mostra os horrores da guerra”.
MÚSICA
Viagra Boys
A banda sueca de pós-punk lançou o ótimo álbum Viagr Aboys, com a faixa Man Made of Meat no meu repeat do ano.
Bob Vylan
Se posicionou contra o genocídio em Gaza sem papas na língua e com essa atitude descobri esse artista maravilhoso que é o Bob Vylan. A The Hunger Games é um hino da revolta e do desgaste nosso de cada dia nesse capitalismo tardio.
Amaro Freitas
Bela descoberta desse pianista genial, fui no show e vibrei com sua maestria e experimentalismos com chocalhos evocando sons indígenas e prendedores nas cordas do piano que produzem ritmos de percussão. Esse pernambucano merece um maior reconhecimento.
***Mais do Mesmo que satisfazem a vontade de ouvir um novo mais do mesmo
Samael com a Black Matter Manifesto.
Soulfly com a Nihilist.
Tyler the Creator com Sugar on my Tongue.
***Belas misturas***
Berghain da Rosalía com Björk e Yves Tumor
Luther do Kendrick Lamar com SZA
Talk Olympics do Obongjayar com Little Simz
***Show inusitado***
Do neida, passeando na galeria Metrópole com a namorida, tá lá o Andreas Kisser (Sepultura dã) atrás de uma vitrine tocando violão para uma dúzia de cadeiras e uma galerinha de pé.
DOCUMENTÁRIO
The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft, do Werner Herzog. O documentário é uma homenagem ao casal francês de vulcanólogos mortos por uma nuvem piroclástica no Japão no início dos anos 90. A narração e as belas imagens traçam uma obra poética por um amor à natureza bruta.
Aka Charlie Sheen, documentário da Netflix dividido em duas partes, que mostra a história de um dos nepo babies mais famosos de holywood, desde os anos 80, do sucesso acumulado nas décadas seguintes, tendo se tornado o ator mais bem pago da TV nos anos 2010 tendo recebido em média 1,5 milhão de doletas por episódio da série Dois Homens e Meio (Two and a Half Man). O documentário apesar de simples foi interessante pelo apelo nostálgico dos filmes que ele participou, dos detalhes desnudados de seus vícios e polêmicas e de ficar feliz por saber como alguém conseguiu sobreviver e poder dizer hoje que está há anos sóbrio.
O Freelancer – O Homem por Trás da Foto, o documentário investigativo de reparação histórica pelo crédito de uma das fotos mais famosas da história, a da criança nua correndo com os braços pendidos e semblante de sofrimento, todo mundo já viu em algum momento a foto de Kim Phúc, conhecida como a “Garota do Napalm”. O documentário revela que o autor do clique, Nick Ut, que gozou de reconhecimento, venceu Pulitzer e deu palestras por décadas não é o responsável real do ícone denunciante da guerra do Vietnã, o verdadeiro autor da foto foi o freelancer Nguyen Thanh Nghe, que na época recebeu 20 dólares e nada mais.
Trilha Sonora para um Golpe de Estado (Soundtrack to a Coup d’Etat), documentário foda demais, que escancara as maquinações mesquinhas políticas e de serviços secretos para o assassinato de Patrice Lumumba, primeiro-ministro do Congo que tinha acabado de conquistar a “independência”.
Assistir ao documentário é como almoçar uma comida que não gosta em um local nada aprazível, e tenho a impressão que é esse retrogosto das personagens envolvidas em tudo o que aconteceu, como os grandes músicos de jazz que foram usados para disfarçarem conspirações europeias e americanas.
Bienal
Enfim conheci a Bienal, nunca tinha visitado uma bienal de arte de São Paulo.
Conhecer as estruturas arquitetônicas da região do Ibirapuera sempre me cativava quando ia nas raras excursões da escola.
Por votos de um 2026 recheado de coisas boas, disputando espaço nessa tarefa de elencar o que foram os melhores momentos.
Ma’a Salama!